O fenômeno climático El Niño e as mudanças climáticas “castigaram” a América Latina e o Caribe em 2023, afirmou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em relatório divulgado no início de maio. As secas, ondas de calor, incêndios florestais, chuvas extremas e um furacão recorde que ocorreram no ano passado tiveram impactos na saúde, na segurança alimentar e energética e no desenvolvimento econômico que serão sentidos “em 2024 e além”, concluiu a OMM.

Eloisa Beling Loose (Cortesia)
Essa análise resume o cenário climático que, desde a perspectiva do jornalismo, atravessa todas as editorias. As mudanças climáticas e seus efeitos desafiam jornalistas a aprender e lidar com situações inimagináveis até poucos anos atrás e que já se configuram como o novo normal.
A LatAm Journalism Review (LJR) conversou sobre esse tema com a jornalista brasileira Eloisa Beling Loose, pesquisadora e consultora na área de comunicação e meio ambiente, com ênfase em mudanças climáticas. Loose é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e membro do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental (GPJA). Ela se dedica ao tema há quase 20 anos e recentemente lançou o livro “Jornalismos e crise climática: Um estudo desde o Sul Global sobre os vínculos do jornalismo com a colonialidade”.
“Meio ambiente é uma pauta de interesse público que está em todas as editorias. Você vai se deparar com esse tema, e se não tiver uma formação crítica e informações para elaborar uma boa pauta, vai ser mero reprodutor de vozes oficiais”, disse Loose.
Ela falou com a LJR sobre como o jornalismo pode contribuir para discussões mais aprofundadas sobre as mudanças climáticas e suas causas – não apenas suas devastadoras consequências. Também destacou a importância de falar sobre prevenção de desastres climáticos e incorporar o cuidado ambiental à cobertura.
Leia a entrevista a seguir, que foi editada para fins de concisão e clareza.
1. Por que você decidiu pesquisar jornalismo ambiental e climático?
Eloisa Beling Loose: Primeiro, é importante dizer que eu entendo que o jornalismo climático não é algo tão diferente do jornalismo ambiental. É uma nova maneira de tratar do jornalismo ambiental, considerando que a questão climática ganhou ampla visibilidade e é uma parte muito relevante da crise ambiental. Mas não é um jornalismo totalmente novo, não está descolado do debate ambiental.
Eu estagiava em um centro de ciências rurais e percebia que existia uma possibilidade de discutir questões ambientais, mas esse enfoque nunca era prioritário. Fui tentar entender por que isso acontecia e descobri que existia o jornalismo ambiental, mas havia poucas referências e pouco incentivo, desde dentro dos cursos [de jornalismo] até as coberturas. Era um caderno por semana [sobre meio ambiente] ou uma seção que saía em um dia específico. Eu imaginava que poderia trabalhar em um espaço assim e que esse tipo de jornalismo ia crescer, só que com o decorrer do tempo as seções especializadas foram encolhendo, se extinguindo. Alguns apontam que essa cobertura se transversalizou e por isso não existem mais esses espaços. Mas foi isso: identifiquei que havia assuntos para serem abordados, mas que tinham pouca ênfase. E fui procurar como dar conta disso.
2. Uma pesquisa do Ipsos Global realizada em 2023 apontou que apenas 24% da população global considera que a mídia representa bem o impacto das mudanças climáticas. A América Latina é a região onde as pessoas mais sentem que a mídia subestima o impacto, e onde menos se considera que a mídia exagera. Pegando emprestada a pergunta da pesquisa, você diria que a mídia na América Latina subestima, exagera ou apresenta uma boa representação do impacto das mudanças climáticas?
Há poucos estudos na área da Comunicação na América Latina sobre mudanças climáticas, principalmente pesquisas longitudinais que nos mostrem como essa cobertura vai mudando e como isso afeta a reação [do público]. Não temos esses dados, então trabalhamos com pesquisas muito pontuais, que tiram um retrato de um momento.
De maneira geral, quando falamos sobre cobertura climática – e vários estudos no Brasil e na América Latina apontam isso – são as consequências das mudanças climáticas que são destacadas. O jornalismo tem muita dificuldade de discutir e destacar as causas da crise climática. Pode até aparecer lá no meio de uma matéria: “as mudanças climáticas são causadas pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa”. Mas o que isso significa nas vidas das pessoas? Como elas conseguem entender essa emissão com aquilo que elas fazem no dia a dia e com um problema que está acontecendo agora?
Os impactos aparecem geralmente quando o desastre eclode, quando o risco climático deixa de ser uma antecipação e se torna algo concreto. É justamente nisso que o jornalismo tem mais facilidade de cobertura, então isso tem que aparecer. Faz parte da lógica jornalística, e não acho que haja exagero ou sensacionalismo em relação a isso, afinal, a crise climática é gravíssima e demanda ações urgentes.
Não acredito que hoje haja uma falta de cobertura [climática]. O que pode acontecer é essa cobertura, com ênfase nos impactos, não conseguir avançar para trazer também a discussão sobre as causas e alternativas possíveis para lidarmos com o problema.
3. Em uma coluna publicada em janeiro deste ano no site ((o))eco, você e Clara Aguiar, também membro do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental (GPJA), escreveram que a perspectiva decolonial, que critica as práticas coloniais de exploração, “está intrinsecamente relacionada aos pressupostos do jornalismo ambiental”. Como se dá essa relação?
A discussão sobre a decolonialidade [pensamento que critica o padrão de poder eurocêntrico] entra na Comunicação mais tardiamente do que em outros campos de conhecimento. Há muitas coisas que têm o ‘rótulo’ da decolonialidade que nós já vínhamos incorporando e discutindo no âmbito do GPJA, a partir de leituras de autores latino-americanos que trazem essa crítica acerca da relação que nós temos com a natureza por meio de hierarquizações e uma série de explorações.
A partir de estudos sobre a cobertura ambiental tanto do jornalismo mainstream/tradicional e de veículos independentes ou alternativos, começamos a pensar de onde vinham os pressupostos ou as bases do jornalismo ambiental, aquilo que consolida o que o jornalismo ambiental tem de diferente dos outros jornalismos. Como ele traz um olhar ou um contributo para observar essas relações [entre humanos e o resto da natureza] de uma maneira mais integrada?
Começamos a defender, a partir desses estudos e do referencial bibliográfico sobre o tema, que o jornalismo ambiental deveria ter alguns elementos para considerar o cuidado ambiental na cobertura, e não entender o meio ambiente somente como um objeto. De uma forma geral, o que o jornalismo faz, a partir da lógica hegemônica, é ver o meio ambiente como recurso natural. O jornalismo tende a relatar quando falta o recurso, gerando um prejuízo na economia, ou quando existe um impacto e implica custo para ser resolvido.
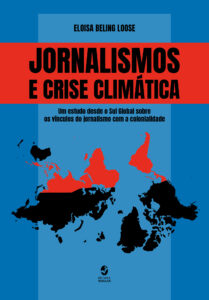 Nosso grupo de pesquisa começou a discutir quais seriam esses pressupostos. Um deles é a pluralidade de vozes. Se pensarmos, por exemplo, nas questões climáticas: quem são as pessoas que mais sentem os impactos das mudanças climáticas? O jornalismo não deve ouvir apenas a ciência, o que não é uma descredibilização do conhecimento científico, mas entender que existem saberes populares e tradicionais, oriundos da experiência, que precisam ter espaço na imprensa e que pouco são ouvidos até hoje, mesmo em meios que dizem se contrapor à lógica hegemônica.
Nosso grupo de pesquisa começou a discutir quais seriam esses pressupostos. Um deles é a pluralidade de vozes. Se pensarmos, por exemplo, nas questões climáticas: quem são as pessoas que mais sentem os impactos das mudanças climáticas? O jornalismo não deve ouvir apenas a ciência, o que não é uma descredibilização do conhecimento científico, mas entender que existem saberes populares e tradicionais, oriundos da experiência, que precisam ter espaço na imprensa e que pouco são ouvidos até hoje, mesmo em meios que dizem se contrapor à lógica hegemônica.
Outro pressuposto do jornalismo ambiental é a contextualização mais ampla. Isso é algo que qualifica o jornalismo de forma geral, mas cada vez mais parece se tornar algo presente apenas em alguns tipos de jornalismo, porque o dia a dia não permite, há o enxugamento das redações e a dificuldade de especialização dos profissionais. Também a assimilação do saber ambiental, que é compreender como o campo ambiental compreende o que está acontecendo, pois [no jornalismo] trabalhamos a partir de uma racionalidade predominantemente econômica. Então é importante conhecer como se dá historicamente a construção da ideia de meio ambiente e quais são os interesses atravessados nessas discussões, sob a ótica de área de conhecimentos que reivindicam outras maneiras de estar no mundo.
Aprendemos muito com os pensadores do campo ambiental e identificamos que há processos para os quais o jornalismo não costuma olhar. A própria questão das interconexões, da qual [Fritjof] Capra fala, da teia da vida e de como não somos seres autônomos, que podem viver isoladamente. E isso está presente no pensamento hegemônico: a possibilidade de progresso e sucesso individual é muito diferente de tudo aquilo que conseguimos observar a partir das relações de interdependência da natureza. Ao aprender com os saberes ambientais, podemos propor pautas que possam contribuir com o interesse coletivo e beneficiar a sociedade como um todo.
4. Em maio, a Folha de S. Paulo passou a ter uma correspondente climática, cargo também criado recentemente em outros meios jornalísticos pelo mundo, como CNN e Financial Times. Qual é a sua opinião sobre a criação desse cargo?
Na área de estudos, há uma discussão recorrente sobre o que seria melhor para o jornalismo: ter profissionais especializados [na cobertura ambiental] ou tornar essa perspectiva algo comum a todos os jornalistas.
Houve um momento em que achávamos que ter um espaço demarcado [para a cobertura ambiental] poderia mostrar ao público como há várias perspectivas sobre esse tema e como ele é importante. Por outro lado, às vezes tínhamos a sensação de que, com aquele espaço bem demarcado, muitas pessoas que tinham uma pré-concepção de que aquilo era assunto de “ecochatos” ou apenas de ambientalistas iam simplesmente pular a página. Assim, elas não iriam acessar um conteúdo que, se estivesse presente de maneira mais transversal na cobertura, talvez fosse consumido.
A princípio eu entendia a especialização como uma etapa, até todo mundo compreender a relevância do tema e chegar a uma transversalização. Não foi bem isso que ocorreu. No Brasil, quando aconteceu a ECO-92 [Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento sediada no Rio de Janeiro em 1992], houve um movimento de formação de jornalistas e de jornais abrindo seções para discutir questões ambientais. Depois disso, a proposta foi perdendo força, os espaços foram sendo fechados, os jornalistas ambientais se tornaram muito caros para as redações. Há hoje muito jornalismo ambiental, mas não tanto em grandes jornais. O jornalismo ambiental hoje está bastante espalhado em veículos digitais, mas é difícil mensurar seu alcance social.
Sou a favor de que existam jornalistas que tenham dedicação exclusiva a clima ou meio ambiente, porque poderão fazer as perguntas que dependem de conhecimento prévio e elaborar pautas que vão trazer um aprofundamento maior para o público. Ao mesmo tempo, uma formação mais ampla também precisa ocorrer. [A jornalista brasileira] Sonia Bridi tem falado bastante que hoje em dia todo jornalista deveria ser do clima. E, no GPJA, nós falamos isso há pelo menos 15 anos: meio ambiente é uma pauta de interesse público que está em todas as editorias. Você vai se deparar com esse tema, e se não tiver uma formação crítica e informações para elaborar uma boa pauta, vai ser mero reprodutor de vozes oficiais.

Grandes inundações no estado brasileiro de Minas Gerais. (Canva)
5. Os eventos climáticos extremos têm aumentado em frequência e intensidade no mundo todo, e recentemente o Rio Grande do Sul passou por aquele que tem sido considerado o maior desastre climático da história do estado. Outros países na América Latina passaram recentemente por eventos climáticos extremos e a tendência, segundo cientistas, é que muitos mais virão. Qual é a sua avaliação da cobertura desses eventos, e como ela pode melhorar?
É importante conectar esses desastres que estão acontecendo com mais intensidade e frequência às questões climáticas. Isso parece óbvio, mas nem sempre aparece de uma forma explícita na cobertura. Adjetivar o desastre como climático talvez seja pedagógico nesse sentido. A ciência da atribuição [que verifica a influência das mudanças climáticas no aumento dos eventos climáticos extremos] tem seu tempo, que nem sempre acompanha o da cobertura. Além disso, não teremos estudos sobre todos os eventos extremos, mas, de uma maneira geral, os cientistas afirmam que sim, a tendência é que cada vez mais, em razão das mudanças climáticas aceleradas pela ação humana, esses eventos trágicos vão ocorrer. A partir do que a ciência já constata, é possível dar mais relevo para ações de enfrentamento das mudanças climáticas que estão associadas diretamente com a redução de riscos e desastres.
Aqui no Rio Grande do Sul, quando eclodiu o desastre, obviamente a principal preocupação dos jornalistas foi prestar serviço à população e tentar organizar o caos de informações. Como o jornalismo é muito orientado para o factual, ele cobre muito bem o que está acontecendo no momento, e nessa cobertura não há muito tempo para aprofundar e discutir causas.
Mais do que cobrir a resposta ao desastre, o jornalismo precisa observar que o desastre é um processo que continua ocorrendo após esse momento inicial. Há uma preocupação de muitos jornalistas de não deixar que o assunto desapareça. No entanto, estudos de coberturas anteriores, de outros desastres, mostram que é comum que o jornalismo só se lembre do desastre um ano depois, ou cinco anos depois, nas efemérides. Não há um acompanhamento mostrando como as pessoas afetadas conseguiram ou não voltar para uma “normalidade”; se conseguiram, de alguma maneira, retomar suas vidas. Essas pessoas acabam sendo invisibilizadas.
Dentro desse processo também precisa estar a desnaturalização do desastre. O jornalismo continua nomeando o desastre como natural, culpando as chuvas e não um contexto geral que foi provocado por decisões humanas. O desastre climático é uma conjunção que vai decorrer de uma ameaça, que nesse caso foram as chuvas intensas, associado a um estado de vulnerabilidade social que não tinha condições para se adaptar ou reagir a essa ameaça. Isso porque não houve uma tentativa prévia ou ações de prevenção que pudessem vislumbrar essa ameaça e preparar a população para enfrentá-la. Quando o jornalismo coloca que o “desastre natural” ocorreu, parece que não temos nada a fazer enquanto público, enquanto sociedade. Se é algo natural, o que podemos fazer sobre isso?
No entanto, quando o jornalismo consegue designar esse desastre como uma consequência de ações humanas que poderiam ser repensadas e mostra que o desastre é evitável se essas vulnerabilidades forem combatidas, surge outro entendimento. O jornalismo ajuda a construir o imaginário social e esse é um papel muito relevante. É um cuidado que precisa ser tomado quando as autoridades falam que “a culpa foi da chuva, não tinha como prever”. Às vezes, por falta de repertório ou por achar que a fonte oficial deve ter o espaço da manchete, isso acaba sendo reproduzido e as pessoas vão de alguma forma introjetando essa compreensão de que, de fato, esse desastre é natural, as mudanças climáticas são naturais, e daí o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada.
Também é muito importante falar da prevenção. O jornalismo tem dificuldade de trabalhar com eventos antecipatórios, pois isso é visto pela comunidade jornalística como especulação. Mas temos discutido, entre pesquisadores, que essas lógicas precisam ser alteradas, porque o jornalismo não pode mais esperar que o risco se torne desastre para só então falar o que poderia ter sido feito para evitar a tragédia. Os problemas precisam ser reportados de forma antecipada, porque já temos informações, então não faz sentido não falar a respeito disso.
A prevenção precisa ser incorporada de forma mais sistemática para que se consiga contribuir com uma outra cultura. Aqui no Rio Grande do Sul houve muitos casos de pessoas que não reagiram aos alertas, não acreditaram nas piores previsões. A população não está preparada para lidar com esses alertas, e o jornalismo poderia auxiliar de forma significativa nesse sentido, se estivesse falando de prevenção no dia a dia, não só no momento em que o desastre acontece.