Ao se deparar com o diagnóstico da esclerosa lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa incurável, o escritor e jornalista argentino Martín Caparrós pôs-se a fazer o que faz há quase cinco décadas: escrever. Desta vez, no entanto, não sobre lugares pouco visitados ou questões sociais prementes, mas um tema inédito para si, a sua própria vida.
O resultado é o livro de memórias “Antes que nada”, publicado em outubro do ano passado, no qual, ao longo de 664 páginas, Caparrós narra a sua própria vida e reflete sobre a existência, entrelaçando muitos dos interessantes fatos que viveu com a história social, cultural e política da Argentina e do mundo.
Caparrós, de 67 anos, é um dos maiores representantes do gênero que se convencionou chamar nos países de língua espanhola de "Crônica", cujo sentido difere do da palavra em português. Trata-se do primo latino-americano do new journalism, composto por reportagens longas, estilisticamente aprumadas e com uma presença marcante de uma voz autoral.
Ele começou no jornalismo aos 16 anos e, embora tenha tido intervalos nesse tempo e desde a década de 1980 não trabalhe mais em redações, nunca se afastou completamente do gênero. Hoje em dia, segue escrevendo colunas para o El País, além de participar de júris de prêmios e de dar oficinas anuais sobre livros-reportagens para a Fundação Gabo.
Segue, igualmente, publicando um livro atrás do outro. No início de maio, saiu na Argentina “La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro)”, que romanceia a vida do escritor argentino a partir de seu personagem, e em junho está previsto o lançamento do ensaio "Sindiós".
Na entrevista com a LatAm Journalism Review (LJR) abaixo, Caparrós aborda, entre outros, como vê o jornalismo hoje, o que faz um bom jornalista, o processo de narrar a própria vida, e como está usando a inteligência artificial para compor canções que tratam de política e as vantagens de ser um cabeça dura.
A entrevista foi editada por fins de clareza e concisão.
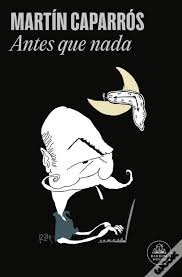
Capa de 'Antes que nada', o livro de memórias de Martín Caparrós (Capa: Cortesia da Random House)
LJR: A memória é algo vivo e dinâmico, que muda o tempo todo. Há memórias que o senhor pensou que estavam perdidas e ficou surpreso ao reencontrar, como se descobrisse preciosidades?
MC: Sim, isso aconteceu durante o processo de escrita, sem dúvida. Na verdade, esse era o propósito de escrever essas memórias. Ou seja, fazer um balanço da minha vida para ver como ela tinha sido e o que eu tinha feito.
Na verdade, eu não planejava publicar no começo, mas decidi fazê-lo um tempo depois. Quer dizer, a princípio, era muito mais para eu ter uma visão geral.
E de fato eu encontrei coisas nas quais eu simplesmente não tinha pensado, e elas começaram a aparecer enquanto eu repensava e escrevia. O que menos gosto é que também continuo lembrando de coisas depois de publicar.
LJR: Em termos de estilo, quem tinha em mente quando escreveu o livro? O senhor tinha alguma referência como memorialista?
MC: O estilo que eu tinha em mente era o meu. Nos últimos, não sei, 45 anos, venho desenvolvendo um estilo que, bem, penso ter características próprias, certo?
Por exemplo, o uso de fragmentos escritos em versos, o vai e vem entre formas e linguagens. O que fiz neste livro, como na maioria dos que escrevo, foi tentar dar um passo adiante nessa busca pelo meu próprio estilo.
LJR: O senhor tem entre oito e 10 livros finalizados que ainda não foram publicados. Há algum sobre jornalismo? O que vai fazer com eles?
MC: Bom, estou publicando-os. Não sei se existe algo que possa ser chamado de jornalismo. Nas minhas circunstâncias atuais, o jornalismo ficou mais difícil.
Eu tenho um, que geralmente não incluo na lista, que é como uma compilação das minhas entrevistas, as entrevistas que acho que vale a pena recuperar. Mas antes disso, há vários outros livros que prefiro publicar porque são inéditos.
Agora, acaba de sair um na Argentina que é a vida de José Hernández, que foi o grande escritor nacional do final do século XIX, que escreveu um poema gaúcho chamado Martín Fierro, sobre um personagem emblemático argentino. Escrevi uma vida de José Hernández escrita por Martín Fierro, ou seja, seu personagem, em versos gauchescos. É uma espécie de biografia fictícia, mas em verso.
Em junho sai esse livrinho chamado "Sindiós"; "Sem Deus" tudo junto, o que aqui na Espanha significa caos, uma bagunça.
E então em outubro, eu acho, sairá um romance muito fragmentado sobre Buenos Aires, a cidade, seu povo. E assim continuamos. Tentarei publicar o mais rápido possível, mas não é possível publicar três livros por ano, todos os anos.
LJR: E está escrevendo todos dia, ou não?
MC: Sim, bem, há uma semana terminei de revisar este romance. Depois, passei alguns dias em Barcelona porque tinha trabalho lá, e agora estou escrevendo dois ou três artigos que tinha pendentes. Fora isso, agora preciso decidir em qual livro vou me aprofundar, porque quando não estou escrevendo um livro, sofro mais.
LJR: Todos os repórteres escrevem muito. O mais incrível da sua produção, no entanto, é que ela também inclui uma dimensão novelística e literária. O senhor publicou mais de 40 livros. Como consegue trabalhar tanto? As rotinas do jornalismo o ajudaram?
MC: Acho que não, porque comecei a fazer jornalismo quando era muito jovem, tinha 16 anos, mas parei quando fiz 18, porque precisei deixar a Argentina depois do golpe e só consegui voltar ao jornalismo de verdade sete anos depois. E nesse intervalo eu já havia escrito três romances. Ou seja, de certa forma, eu fui um romancista antes de ser jornalista.
Talvez seja o contrário; foi meu trabalho como romancista que me ensinou a fazer jornalismo de uma maneira um pouco diferente, buscando novas formas e caminhos.
LJR: O senhor tem rotinas diferentes dependendo se escreve crônicas, reportagens ou ficção?
MC: O que é diferente é o trabalho. Se eu tiver que escrever uma crônica, tenho que passar algum tempo em um determinado espaço geográfico ou social, conversar com muitas pessoas, descobrir novas coisas, fazer muitas anotações. então, no momento em que escrevo, o que faço é uma espécie de toque final, digamos assim, é estruturar tudo isso um pouco.
Por outro lado, com um romance eu faço tudo aqui, em frente ao computador. Então o processo é muito diferente. Mas a prosa e as formas de estilo que tento usar não são.
LJR: O senhor tem um estilo em suas crônicas em que sua subjetividade e a experiência vivida são muito claramente evidentes. Agora, por outro lado, fala-se muito sobre inteligência artificial. O que acha da inteligência artificial?
MC: Tenho uma relação forte, mas diferente, com a inteligência artificial. Eu a uso para fazer coisas que não conseguiria fazer sozinho. Ou seja, não escrever um texto, um artigo, seja lá o que for. Para isso, ainda acredito que a minha minguada inteligência natural seja melhor.
Por outro lado, tem uma coisa que eu não sei fazer e estou fazendo muito intensamente com inteligência artificial: compor músicas.
Alguns meses atrás, um amigo me contou sobre um programa chamado Suno, onde você pode adicionar a letra que quiser, escolher o gênero desejado e ele tocará uma música para você em 30 segundos.
Fiquei realmente viciado nisso, tanto que no sábado ou domingo comecei a tocar essas músicas em um programa de rádio que é muito ouvido aqui na Espanha, como uma espécie de coluna sonora, por assim dizer. É como uma coluna de opinião, mas em forma de canção.
Estou entretidíssimo com isso. É uma linguagem completamente nova que eu não poderia usar porque não conheço música, não canto e não tenho nenhum instrumento.
LJR: E como vê os representantes atuais desse gênero que se convencionou chamar na América Latina de crônica? Acompanha a produção atual?
MC: Na medida do possível, acompanho-a de duas maneiras básicas.
Uma delas é que frequentemente participo de júris de prêmios de jornalistas, tanto da Fundação Gabo quanto de livros da editora Anagrama. Isso me permite ou me obriga a ficar atualizado, porque tenho que ler muitos textos todo ano.
E, por outro lado, porque todo ano eu faço uma oficina de livros com a Fundação Gabo, que é formada por oito escritores de não ficção que se reúnem comigo por uma semana e discutimos seus projetos avançados de livros.
E sim, acho que há pessoas fazendo coisas muito interessantes.
Ainda acredito que estamos um pouco presos a certo tipo de temática, que tem a ver principalmente com a violência, os efeitos da violência e a pobreza sob as suas várias formas. Bom, é necessário contar isso, mas há muitas outras coisas que também merecem ser contadas.
Muitas vezes deixamos essas coisas de lado porque, em última análise, de várias maneiras, é quase mais fácil relatar bravamente um episódio de violência do que tentar entender e contar como é que nós vivemos. Isso é o que mais me interessa, e também o que acho mais difícil.
LJR: O jornalismo na América Latina mudou um pouco há cerca de 10 anos, com um papel mais importante da filantropia e o crescimento dos veículos apoiados por fundações internacionais. O senhor acha que isso afastou o jornalismo daquelas experiências sociais que não estão ligadas a problemas muito claros?
MC: Não, não creio que seja por isso. Quer dizer, pode ser em pequena medida, porque é mais fácil conseguir uma bolsa se você disser que está cobrindo pessoas deslocadas pela violência em tal lugar ou algo assim. São como aquelas causas que automaticamente nos parecem nobres e valiosas, certo?
Mas não creio que essa seja a razão principal, porque tenho certeza de que bolsas também podem ser obtidas com outras propostas.
O que mudou muito nos últimos 10 ou 15 anos com novas técnicas e o surgimento de veículos que operam principalmente por meio da filantropia é algo que foi muito clássico durante a maior parte da minha vida: os jornalistas eram tidos como lobos solitários, trabalhando sozinhos ou quase sozinhos, e agora é o contrário, eles trabalham muito mais em grupo.
Isso tem a ver com mudanças técnicas. Para muitos cargos jornalísticos, habilidades diferentes são necessárias: é preciso alguém que escreva, alguém que faça vídeos, alguém que crie infográficos. E a conectividade nos permite trabalhar em grupos espalhados por vários países, algo que era quase impensável há poucos anos.
Acho que mudou mais nesse sentido; muito do bom trabalho não é mais individual, mas acontece em grupo, e isso é muito interessante. Não acho que seja bom ou ruim que as ONGs estejam de alguma forma apoiando esse trabalho, muito pelo contrário. Não vejo por que um anúncio de uma caminhonete Ford seja melhor do que o dinheiro da Fundação Ford, digamos.
LJR: Eu disse diferente, não melhor. Na verdade, acho que quanto mais um meio de comunicação depende de seus próprios leitores, melhor, mas isso é muito difícil aqui na América Latina.
MC: Sim, é verdade. Mas me parece que isso depende um pouco da vontade, energia e entusiasmo de cada meio, para sair desse tipo de curralzinho dourado, onde é fácil continuar fazendo a mesma coisa. Às vezes parece que você está fazendo coisas importantes, mas na realidade está só repetindo a si mesmo.
LJR: O senhor sempre teve muito espaço para experimentação formal em seu trabalho. O senhor acha que há hoje espaços equivalentes na Argentina para isso?
MC: Nunca tive espaço para a experimentação formal. Eu o criei, e esse espaço apareceu ou desapareceu dependendo dos momentos; às vezes conseguimos manter isso, e às vezes não.
Eu estava me lembrando de uma coisa boba quando voltei para a Argentina em 83. No início de 84, começamos um programa de rádio com um amigo muito querido, Jorge Dorio, e trabalhamos juntos em muitas coisas. Começamos um programa que passava todas as noites, chamado "Sonho de uma Noite de Verão de Belgrano", porque a estação de rádio se chamava Belgrano. Em vez de verão, a temperatura da primeira noite foi entre zero e dois graus.
Na primeira noite, quando o programa terminou, nós dissemos: "Bem, tchau, até amanhã." Na manhã seguinte nos enviaram um memorando dizendo que não era possível falar assim. Você tinha que dizer: "Querido ouvinte, nos despedimos de você até amanhã, blá blá blá."
Era preciso ser muito sério, foi o chefe de operações da rádio que nos disse isso. Claro que o ignoramos, e esse programa ainda é lembrado por aí, está nos livros de história do rádio.
Geralmente, ou você cria esse espaço, ou não, e decide seguir em frente com o que lhe parece mais fácil.
LJR: O senhor acredita que um único profissional pode fazer uma grande diferença para um veículo de comunicação ou não, que as estruturas são muito fortes e um profissional só não faz diferença alguma?
MC: Acredito que uma pessoa pode fazer muita diferença; uma única pessoa, como dizemos na Argentina, que "não arrede o pé", ou seja, que não se conforma em fazer o que mandam, o que pedem, mas propõe coisas um pouco diferentes. Você estava falando sobre espaços; ninguém nunca me disse para escrever artigos de 15 mil ou 20 mil palavras.
Tive que lutar muito para conseguir publicar isso e outras coisas. E me parece que, infelizmente, a vida na mídia de pessoas que querem fazer algo melhor, algo diferente, é conflituosa, é feita de brigas. Mas se você está convencido, acredito que vale a pena lutar, porque acontecem coisas diferentes quando você não faz o mesmo que todo mundo e não se deixa levar pela mediocridade geral.
LJR: O senhor faz parte de uma geração de intelectuais fortemente identificados com a esquerda, e agora estamos vivenciando uma ascensão da direita em muitas partes do mundo. Como você avalia a ascensão da extrema direita?
MC: Quando você começou a pergunta falando de uma geração de intelectuais identificados com a esquerda, a primeira coisa que pensei foi que, curiosamente e felizmente, essa direita, que está ganhando espaço em tantos lugares, praticamente não tem intelectuais.
Aqueles que são chamados de intelectuais de direita na Argentina são dois ou três jovens de extraordinária pobreza cultural. Isso me dá um pouco de esperança. Mas bem, é verdade que, por enquanto, todos esses intelectuais que supostamente são de esquerda, o que estamos tentando fazer é entender o que diabos aconteceu conosco, ou seja, como pode ser que de repente tantos milhões de pessoas estejam votando nesses palhaços.
Então, acho que nós cansamos muitas pessoas ao falar sobre identidades e certos detalhes de etiquetas, em vez de, é claro, continuar falando sobre identidades e detalhes, mas continuar lutando, acima de tudo, pelos trabalhadores e pelos pobres. Digo, não substituir a classe pela identidade, mas incluir a identidade dentro da luta de classes.
Foi isso que não soubemos fazer, e então apareceu toda essa série de lunáticos. É muito curioso, porque em geral são pessoas que estão aliadas ou fazem parte do grande capital; Trump, Milei, todos eles. É curioso que eles tenham conseguido convencer milhões de pessoas, muitas das quais são muito pobres, de que serão eles que as tirarão da pobreza. Mas insisto, isso tem muito mais a ver com os erros da esquerda do que com quaisquer sucessos específicos da direita.
LJR: Também há mudanças na comunicação, certo? Milei começou na televisão, e Trump e Bolsonaro também se beneficiaram. Como você vê o envolvimento da mídia na ascensão daqueles considerados extremistas?
MC: Em quase todos os casos, foram figuras de direita que se aproveitaram dessas formas de comunicação oferecidas pela televisão e pelas redes sociais.
Não é que eu tenha uma resposta para isso, mas a primeira coisa que me vem à mente é que o tipo de discurso que a esquerda trouxe para esses lugares, quando teve acesso – o que nem sempre foi o caso; quero dizer, era mais fácil para pessoas de direita entrarem nesses programas —, o que a esquerda conseguiu trazer foi um discurso que não parecia de ruptura, curiosamente. O que eu digo é que parecia algo já muito usado, muito desgastado e, portanto, muito pouco confiável.
Para o bem ou para o mal, na maioria dos nossos países, partidos que se autodenominavam de esquerda governaram. Então, seu discurso choca-se com a realidade do que está acontecendo.
Lembro-me de escrever, há cerca de 15 anos, que a longo prazo — a médio prazo — o resultado desse discurso supostamente esquerdista do kirchnerismo seria um forte retorno da direita. O que eu estava errado é que eu pensava que o forte retorno da direita seria Macri. Nunca imaginei que pudesse ser algo do calibre direitista e violento representado por Milei.
LJR: O senhor construiu uma carreira e uma vida com as quais muitos jornalistas sonham. Qual fator acredita ter sido mais decisivo para isso? Qual foi o papel do esforço e o da sorte?
MC: Acho que se tenho alguma virtude nesse sentido, além de escrever mais ou menos bonito, é que sou muito teimoso, muito impaciente e muito intolerante. Não gosto de fazer coisas que não me agradam. E estou sempre disposto a abrir mão de dinheiro ou segurança em troca de fazer as coisas que gosto de fazer.
Pense, para começar, o mais evidente dessa profissão é que nela, se você mostra que sabe fazer algo bem — ou seja, se escreve mais ou menos bem, ou algo assim —, rapidamente lhe dão mais dinheiro para você parar de fazer isso. Então você pode se tornar um editor, ou um chefe, ou não sei o quê.
Decidi não cair nessa armadilha. Minha busca, na verdade, era para ser pago um pouco melhor para não fazer isso, mas sim para fazer o que eu gosto, que é escrever ou contar histórias de maneiras diferentes. Isso é uma coisa, e acho que tem a ver com estar mais ou menos convencido do que você quer fazer. Quero dizer: não aceite o que lhe oferecem. Porque, como eu estava dizendo antes, ninguém lhe oferece nada se você não for atrás.
Bom, eu ganhava a vida tentando fazer isso. E eu acho que esse é o ponto; se você realmente quer, tente. E você falha às vezes, e às vezes você falha muito.
LJR: O senhor pensou que nunca valeria a pena escrever sobre si mesmo. Como tem sido a resposta desde que publicou o livro há cerca de oito meses?
MC: A resposta foi, na verdade, boa. Não sei se eu esperava alguma coisa, mas o que recebi foi muito amor, muito carinho, muitas pessoas que me enviaram ou demonstraram carinho por mim depois do livro.
Há cerca de um mês, realizaram um evento aqui no Ateneo de Madrid, que é uma instituição cultural muito antiga, um pouco progressista, com cerca de cem anos de existência.
Realizaram um evento no teatro do Ateneo com cerca de 25 pessoas, incluindo jornalistas, atores, escritores, um pintor e outros músicos, cada um lendo um fragmento do livro. Um amigo meu organizou isso, ele teve uma ideia, e eles fizeram uma coisa que durou, não sei, uma hora e pouco, em que cada um deles leu uma pequena página do livro, e isso começou a criar uma espécie de retrato meu, digamos assim. E foi muito emocionante que eles tenham se dado ao trabalho de fazer tudo isso, sabe?
Então, bem, o que sei, as respostas têm a ver com isso. E como eu disse, sabe? Sei que isso também acontece porque estou ferrado e não tenho muito mais tempo, mas, ao mesmo tempo, é melhor dizer adeus assim do que de outras maneiras.