Em uma democracia, o que importa é como os direitos se exercem na prática, e o jornalismo é uma ferramenta crucial na concepção, vida e morte destes direitos.
Esta é uma das teses centrais do recém-lançado livro “El periodismo y la fábrica de derechos en América Latina”, do jornalista, cientista político e pesquisador em comunicação argentino Fernando J. Ruiz.
Fruto de mais de sete anos de trabalho, a obra, que está disponível gratuitamente online, se autodescreve como um “curso teórico-prático orientado ao interesse público”.
Ruiz descreve o ciclo de vida dos direitos, desde a reivindicação das vítimas até a resposta das autoridades democráticas, e explica como o jornalismo incide em cada uma dessas etapas.
Ex-presidente do Fórum de Jornalismo Argentino (Fopea) e um dos pensadores da imprensa mais conceituados da região, Ruiz é também um profundo conhecedor da situação política e social da América Latina. No livro, mistura referências de diversos de seus países, de El Salvador ao Brasil.
Na entrevista abaixo com a LatAm Journalism Review (LJR), ele reflete sobre o que há de melhor e pior na imprensa regional, como jornalistas podem atuar em contextos longe dos ideais e também explica o seu modelo para saber se um direito está ou não sendo respeitado.A entrevista foi editada por fins de clareza e concisão
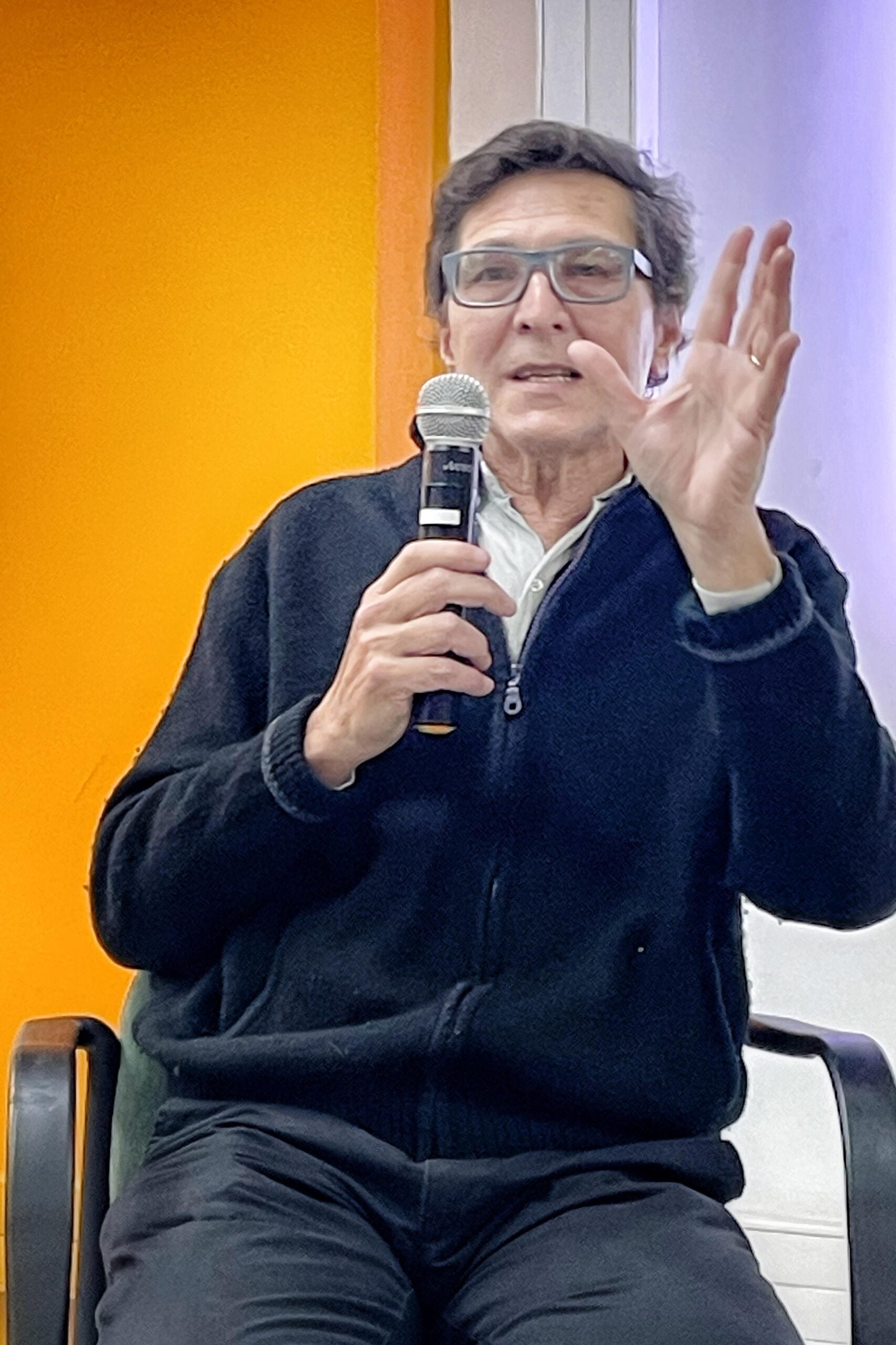
O jornalista e professor argentino Fernando Ruiz during a public talk (Foto: CUP)
LJR: Em primeiro lugar, o que é essa ideia de “fábrica de direitos”?
Fernando Ruiz: Nas democracias, a maneira de saber se estamos avançando ou retrocedendo é analisar o número de direitos que exercemos — não na lei ou no papel, mas na realidade de nossas vidas. Cada uso desses direitos tem um ciclo de vida no qual eles emergem e podem se tornar parte permanente de nossas vidas — ou, às vezes, apenas temporariamente. Eles sobem e descem, quase como em um mercado de ações.
Nesse ciclo de vida dos direitos, o jornalismo, em seu trabalho diário, pode impactar tanto positiva quanto negativamente.
O que eu faço no livro é descrever, em sete etapas, como uma lei surge até se tornar parte da nossa vida real. E comparo como o jornalismo impacta — ou pode impactar — cada uma dessas sete etapas.
LJR: E quais são as sete fases?
FR: Em suma, os direitos emergem quando os afetados os reivindicam, chegam ao público e, então, as instituições democráticas e o Estado os transformam em direitos e exigem sua aplicação. Em cada um desses momentos, o jornalismo pode desempenhar um papel.
Os sete estágios são: vitimização, que ocorre quando as vítimas percebem uma injustiça; acesso à mídia, quando essas vítimas ou alguém em seu nome ganha a atenção dos jornalistas; standing, quando essa voz se consolida na mídia; ressonância, se a voz das vítimas é ouvida; consonância, se essa voz consegue espalhar sua indignação para a sociedade; formalização, quando os poderes Legislativo, Judiciário ou Executivo reconhecem esse direito; e, por fim, consolidação, que é quando o Estado faz valer esse direito.
Em suma, para que um direito seja efetivo e irreversível, seu descumprimento deve ser inaceitável para a sociedade, para as instituições democráticas e até mesmo para a chamada “burocracia de rua”. Este livro analisa boas e más práticas jornalísticas em cada uma dessas sete fases, com exemplos de todos os países latino-americanos.
LJR: Você afirma no livro que "o jornalismo não apenas informa, mas também legisla normas". Estamos agora em um contexto em que outros modos de comunicação, como as mídias sociais, são mais poderosos do que o jornalismo. Essa legislação de normas sociais ainda está em vigor?
FR: O jornalismo tem sido um tanto marginalizado nos últimos anos, mas ainda possui um poder significativo. Menor do que antes, mas ainda é um ator fundamental.
Por exemplo, quando uma empresa sofre uma crise pública e se defende publicamente, os especialistas em crises geralmente sabem que a crise acabou quando o jornalismo profissional para de cobrir o assunto — mesmo que as mídias sociais continuem a fazê-lo. O que define o ciclo é a participação ou não dos jornalistas profissionais.
LJR: Você argumenta que as faculdades de jornalismo não falam muito sobre Direito. Em muitos países latino-americanos, o jornalismo está subordinado ao campo da Comunicação. O jornalismo deveria estar mais próximo do Direito e também da Ciência Política?
FR: O jornalismo de interesse público precisa de muito mais formação em Direito e Ciência Política. Porque, em uma redação, ao decidir quais tópicos cobrir, muitos desses argumentos têm a ver com se a greve dos professores é mais justa do que a da polícia, ou se devemos cobrir a história desta ou daquela família cujo filho foi morto.
Há uma discussão que, entre outros elementos, envolve a ponderação de direitos: o que é mais importante e o que é menos, o que precisa de mais atenção e o que precisa de menos. Portanto, pelo menos o jornalismo de interesse público deveria estar muito mais próximo do Direito e da Ciência Política.
LJR: Toda linha editorial implica uma hierarquia na cobertura de conflitos de direitos. Essa linha pode ser contraditória? Por exemplo, existe uma contradição entre economia e meio ambiente?
FR: Sim, sim, exatamente. A linha editorial — especialmente em países com alta qualidade democrática — pode não ser muito clara. Por exemplo, a seção Internacional pode ter uma postura mais à esquerda, a seção Política mais centrista e a seção Economia mais de centro-direita. Portanto, o alinhamento de valores será diferente. Mas isso também faz parte de uma linha editorial: como os direitos ganham cores de forma diferente.
LJR: E como podemos evitar que os casos se tornem altamente individualizados nessa gestão de disputas por direitos? Por exemplo, que não se compreenda que há fatores sociais por trás de um caso de violência.
FR: Faz parte da prática jornalística tentar incorporar o máximo de contexto possível. Mas, claramente, o jornalismo se baseia principalmente em casos individuais. O jornalismo não é responsável pela análise mais estrutural; ele absorve a análise estrutural conduzida pelo mundo acadêmico para fornecer contexto a casos específicos.
Entendo o significado da sua pergunta e, claramente, é preciso sempre tentar conectar o caso individual a um contexto.
LJR: O senhor também fala bastante sobre a comunicação com as vítimas. Como podemos evitar revitimizá-las? Às vezes, os casos são discutidos de forma muito rápida, ilustrativa e genérica. Como evitar isso?
FR: Dedico vários casos à análise desse ponto, que me parece bastante sensível. Porque, claramente, a força dos direitos depende da capacidade de comunicação das vítimas, ou daqueles que as representam.
E é curioso, porque, para as vítimas, a comunicação pode ser uma forma de revitimização ou então de empoderamento. Aliás, em muitos casos, as vítimas que buscam ativamente a comunicação o fazem para se empoderar
Em muitos casos, a comunicação é muito benéfica para as vítimas. Lembro-me de um caso de julgamento em que o réu cometeu suicídio. As vítimas foram autorizadas a continuar participando do julgamento para expressar seus depoimentos, porque essa comunicação pública era benéfica para elas.
Portanto, a relação entre comunicação e vítimas é muito sensível. A sensibilidade que os jornalistas têm em seu relacionamento com elas também é muito importante. Parte da formação em direitos que os jornalistas precisam também é uma formação em sensibilidade para com as vítimas.
Voltando a uma pergunta anterior: acho que os jornalistas também deveriam estudar Psicologia. E talvez Antropologia também. Isso me leva a uma piada que tenho aqui na universidade: que o jornalismo é o nível mais alto das Ciências Sociais.
LJR: Um dos pontos mais importantes do livro é que o jornalismo é uma profissão democrática. Mas quando, e em que casos, mesmo em condições democráticas, o jornalismo falha em cumprir essa vocação, ou entra em contradição com ela?
FR: Primeiro, quando dissemina discursos autoritários e os deixa passar sem serem questionados. Quando os trata com equivalência moral a outros discursos democráticos.
Gosto muito da expressão de que o jornalismo é uma profissão democrática, porque o jornalismo está intimamente ligado à dúvida, ao questionamento, à indagação e à investigação. E esses são termos que, fora de um contexto democrático, são impossíveis.
Por exemplo, quando o jornalismo evita demonstrar sensibilidade para com as vítimas e mantém a opacidade em relação a grupos muito importantes de vítimas, isso não contribui para a democracia.
Porque não dar voz a grupos de vítimas com queixas muito graves pode levá-las a buscar outras vias — frequentemente, a violência.
Por exemplo, na América Latina, a situação de desigualdade social extrema e persistente é intolerável a médio e longo prazo. Não será surpreendente se as democracias latino-americanas enfrentarem uma crise porque, em algum momento, esses milhões de vítimas se cansaram dessa situação de negligência e se tornaram desestabilizadores do processo democrático.
LJR: Quais tópicos o senhor pensa que têm a pior cobertura na América Latina hoje?
FR: A questão da desigualdade social, sem dúvida. Acho que o tipo de cobertura é a cobertura turística; ou seja, vamos visitar de vez em quando, tiramos algumas fotos, mas não há uma cobertura que coloque a transformação social no centro da agenda.
Talvez o problema seja que a transformação social não é considerada possível e, portanto, como não é considerada possível, há uma resignação: presume-se que essa situação de extrema desigualdade continuará para sempre.
De vez em quando há um gesto — alguma cobertura, algum editorial indignado —, mas esse assunto não permanece na página principal.
LJR: O senhor poderia explicar brevemente o modelo VAR? Como você o desenvolveu?
FR: Eu peguei isso da Copa do Mundo de Clubes [da FIFA]. (Risos.) É assim mesmo. O processo democrático tem uma fase em que há a “Voz” daqueles que desejam se expressar, um segundo estágio em que essa voz obtém ou não Apoio social, e um terceiro estágio em que esse apoio obtém ou não uma Resposta das instituições democráticas. Se obtiver uma resposta, esse direito estará consolidado.
Portanto, o V, o A e o R representam esses três estágios. O jornalismo pode avaliar seu desempenho observando como impacta o estágio da voz, o estágio do apoio social e o estágio da resposta institucional — entendida como a resposta dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como da burocracia estatal. Isso permite avaliar democraticamente o trabalho de uma redação ou de um jornalista.
LJR: E como o jornalismo pode atuar efetivamente no contexto de um Estado ambivalente e fragmentado, como o que você menciona na América Latina?
FR: E aí é preciso acrescentar uma imprensa ambivalente. Ou seja, há um Estado ambivalente e uma imprensa ambivalente; uma imprensa muitas vezes limitada, num “curralzinho”; muito dependente de apoio econômico ou político e, portanto, sem liberdade de agenda. Assim, os jornalistas nessas redações têm muito pouca margem de manobra. É o que está acontecendo hoje na América Latina.
LJR: Então, como agir efetivamente nesses contextos?
FR: Quando há pouca margem de manobra, é preciso estar o mais consciente possível do que se pode fazer. Por exemplo, proponho uma estratégia para a cobertura do tráfico de drogas em contextos com pouca margem de manobra: trabalhar com uma agenda indireta.
Ou seja, em vez de focar em descrever máfias — o que pode ser muito difícil em uma imprensa precária, com um Estado ambivalente —, o foco deveria ser: por que o Estado não consegue combater o crime organizado? Que poderes lhe faltam? Em vez de investigar o crime diretamente, investigam-se as fragilidades institucionais. Essa é uma estratégia mais segura e que pode ter impacto.
Devemos estar cientes das limitações e, dentro delas, tentar alcançar a maior autonomia possível para oferecer a melhor cobertura possível.
LJR: Quem está fazendo a cobertura mais interessante da América Latina hoje, na sua opinião?
FR: El Faro, de El Salvador. Sem dúvida. Porque conseguiu revelar, em um contexto muito difícil, a violência estrutural em El Salvador. Suas investigações ouviram os perpetradores, produzindo um jornalismo narrativo muito interessante, com tratamento extremamente sensível das fontes.
E, claro, há outros casos na América Latina. Gosto muito de um caso em Entre Ríos, Argentina, chamado Análisis. Em uma situação de severas restrições econômicas e políticas, o grupo investigou todos os partidos e poderes políticos com enorme sensibilidade.
LJR: E, precisamente, El Faro recentemente teve um caso controverso quando entrevistaram dois ex-líderes de gangues. No livro, o senhor fala um pouco sobre o risco da equivalência moral ao entrevistar criminosos. Quais princípios éticos devem nortear o jornalismo nessas situações?
FR: O principal princípio ético é estar muito bem preparado para essa entrevista. É importante ouvir o agressor, mas ainda mais importante é que isso não revitimize as vítimas. Portanto, não é uma entrevista para qualquer um: é preciso estar preparado, e as condições precisam ser garantidas.
Por exemplo, quando o Armando.info, na Venezuela, investigou um dos militares mais ligados à tortura, não o consultaram — por razões óbvias.
Outro caso: na investigação sobre o juiz [Sergio] Moro, no Brasil, The Intercept publicou os vazamentos sem consultá-lo primeiro, porque temiam que a publicação fosse proibida legalmente. Era uma possibilidade real.
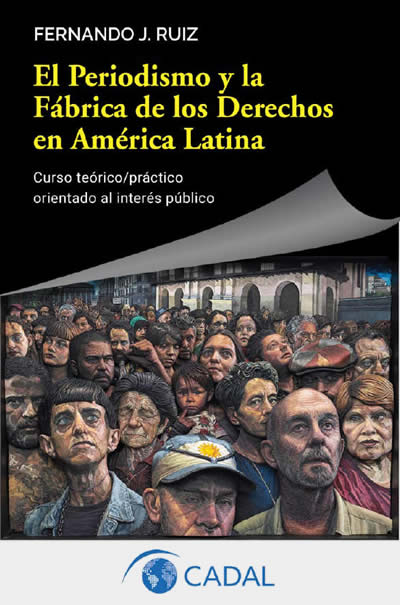
A capa do livro 'El Periodismo y la Fábrica de los Derechos en América Latina',por Fernando J. Ruiz; a capa mostra uma reinterpretação da pintura 'Manifestación', de Antonio Berni, criada pelo duo de artistas Mondongo, formado por Juliana Laffitte e Manuel Mendanha (Imagem: Cortesia)
Portanto, é preciso considerar. O contato com os autores só deve ser feito após uma avaliação completa do impacto potencial: tanto na publicação quanto no risco para os jornalistas e na possibilidade de revitimização.
O caso mais desastroso de entrevista com um agressor na América Latina foi conduzido pelo ator Sean Penn — que nem é jornalista — quando entrevistou "El Chapo" Guzmán e perguntou se ele se considerava um homem violento. É claro que ele respondeu: “Não”.
LJR: Aqui no Brasil, tivemos o caso de uma apresentadora de programa de entretenimento que conversou com um sequestrador ao vivo. Um rapaz havia sequestrado a parceira, e ela o entrevistou durante o sequestro. No final, o rapaz matou a parceira.
FR: Bem, isso é muito sério. Sempre enfrentamos uma tensão no jornalismo: precisamos capturar a atenção. Isso é inegável. Você não pode ser jornalista e não querer capturar a atenção do público — caso contrário, não funciona. É como um professor que não consegue capturar a atenção dos alunos.
Mas, se essa necessidade de captar a atenção nos leva a transformar tudo em espetáculo e a perder a sensibilidade para com as pessoas, então estamos claramente entrando em uma má prática.
LJR: Uma última pergunta: qual é, na sua opinião, o principal dever ético do jornalismo hoje?
FR: Manter a sensibilidade para com as pessoas comuns. Em outras palavras, se a democracia é o regime mais sensível para as pessoas comuns, o jornalismo faz parte da estrutura desse regime democrático. Portanto, ele nunca deve se tornar insensível.