Para qualquer jornalista que procura cobrir temas científicos, comunicar as descobertas de pesquisadores e acadêmicos com clareza e precisão é fundamental.
Aprender a aproveitar fontes como os artigos científicos, comumente chamados de papers – a principal via pela qual cientistas compartilham seus estudos e avanços com a comunidade global – é de grande ajuda.
Quatro especialistas em jornalismo científico da região compartilharam com a LatAm Journalism Review (LJR) recomendações valiosas para qualquer repórter que queira traduzir com credibilidade o conhecimento especializado em conteúdo acessível e relevante para o público em geral.
Ana Cristina Alvarado, repórter equatoriana da organização especializada em jornalismo ambiental Mongabay Latam; Nora Bär, ex-presidente da Rede Argentina de Jornalismo Científico; Macarena Rojas Abalos, presidente da Associação Chilena de Jornalistas e Profissionais para a Comunicação da Ciência; e Fabiola Torres, jornalista peruana, fundadora e diretora do veículo digital nativo Salud con Lupa, falam sobre a importância de identificar conflitos de interesse, entender a estrutura de um paper, buscar opiniões de pares e avaliar a credibilidade das revistas, entre outras boas práticas.
Os repórteres que escolheram um paper científico como fonte devem, desde o início, saber o tipo de estudo científico de que se trata. Existem vários tipos de estudos científicos, que variam conforme critérios como propósito ou metodologia de pesquisa. Alguns estudos são mais abrangentes, com maior evidência; enquanto outros são preliminares ou com mais limitações em suas metodologias.

Ana Cristina Alvarado cobre ciência e questões ambientais para veículos de comunicação como a Mongabay Latam. (Foto: Anka Maldonado / Mullu TV)
"Quanto mais robusta for a fonte, melhor será para citá-la como fonte jornalística", disse Torres. "Há muitos papers, mas nem todos servem ou são de boa qualidade para serem fontes ou sustentarem uma matéria jornalística".
A jornalista recomenda levar em conta a pirâmide de evidência, uma representação gráfica que classifica os tipos de estudos científicos segundo o nível de evidência que oferecem. No topo da pirâmide se situam as revisões sistemáticas e as metanálises, enquanto na parte mais baixa se situam os estudos observacionais e os relatos de caso.
"Creio que essa pirâmide deveria estar ali em nossos murais para que todos os que estão usando um estudo se perguntem de que tipo é o paper que chegou às suas mãos", disse.
Os repórteres devem estar atentos a certos detalhes que poderiam mostrar indícios da falta de qualidade em um estudo científico. O número de participantes nos experimentos, resultados bons demais, metodologia vaga e descobertas superdimensionadas são alguns possíveis indicadores de alerta mencionados pelas especialistas.
"É impossível para quem não é especialista em um tema saber se [um estudo] está bem feito ou não", disse Bär. "Mesmo sendo um repórter especializado em jornalismo científico, há vezes que não se pode perceber que há algo 'estranho' no trabalho. Mas, por exemplo, quando o número de sujeitos que participaram de um experimento é muito pequeno, isso já desperta um alarme".
A experiência dos autores no tema é também um ponto ao qual os jornalistas devem prestar atenção, disse Rojas Abalos.
"É preciso observar quem são os autores, se há expertise no tema, ou se são pessoas que estão publicando ciência pela primeira vez", disse. "Não se trata de aceitar qualquer coisa só 'porque a ciência diz'. Devemos questionar que ciência é essa, quem são esses especialistas. Não podemos simplesmente aceitar tudo o que nos dizem".
Normalmente, nos papers sérios há uma seção ao final na qual os autores declaram se existe algum conflito de interesse em sua pesquisa. Esses conflitos de interesse podem indicar possíveis vieses nos resultados, disse Alvarado.
"Se você lê um paper que se diz científico e ao final não inclui isso [a declaração de conflito de interesse], talvez não seja uma boa fonte", disse a jornalista.
Outra forma de detectar possíveis conflitos de interesse é averiguar quem financiou o estudo em questão. Se os patrocinadores foram empresas ou indústrias, é motivo de suspeita, concordaram as jornalistas.
"Quando assessores de imprensa das indústrias farmacêutica ou alimentícia escrevem para nós, enviam estudos com temas muito interessantes, mas patrocinados por fontes com interesses próprios", disse Torres. "Isso não é notícia, é apenas informação para investigarmos no futuro. Esse tipo de estudo não [consideramos] porque já sabemos que há um interesse por trás e há pouca ciência".
As jornalistas mencionaram também as indústrias tabagista, mineradora e energética entre as que mais patrocinam estudos científicos com fins mercadológicos.
Uma das primeiras coisas que é preciso fazer depois de ler um artigo científico para uma reportagem é entrevistar seus autores, concordaram as quatro jornalistas.

Nora Bär foi editora de Ciência e Saúde do jornal La Nación e presidente da Rede Argentina de Jornalismo Científico. (Foto: Captura de tela do site de Nora Bär)
Embora às vezes estabelecer contato com cientistas possa ser complicado, entrevistá-los é necessário para evitar interpretações errôneas ou inexatas das descobertas por parte do jornalista, disse Rojas Abalos.
Consultar os autores também aumenta o rigor da reportagem e ajuda em uma melhor tradução das evidências para a linguagem coloquial, disse Torres.
"Os papers têm uma estrutura e sua redação nem sempre está detalhada, ou há alguns dados que poderiam estar faltando", disse. "Falar com os autores te dá um panorama melhor exatamente do propósito e das limitações do que estão fazendo, se eles não as mencionaram com clareza no estudo".
Em alguns casos pode ser necessário voltar aos autores para verificar informação que não está muito clara. No entanto, como com o resto das fontes de um jornalista, deve-se evitar compartilhar com eles o texto completo para aprovação, disse Alvarado.
"Se o cientista me explicou com suas palavras algo específico, como um conceito, um fenômeno, um resultado, ou uma metodologia, e depois eu trato de torná-lo mais digerível e mudo as palavras, o que faço é verificar com eles que mudando as palavras não tenha mudado também o conceito", disse a jornalista. "Mas sempre se cumpre essa regra de não enviar-lhes o texto para evitar qualquer tipo de censura ou vazamento".
Rojas Abalos disse que no Chile é comum que os cientistas, depois de dar uma entrevista, peçam para ver a matéria. No entanto, a jornalista disse que isso não é recomendável por razões éticas.
"Os pesquisadores chilenos te pedem 'me manda a matéria antes para que eu te dê o aval de que não estás me tirando de contexto'", disse. "É preciso dizer isso aos pesquisadores: 'vocês não podem fazer isso', e o jornalista nunca deve fazer isso".
Os tempos da imprensa são muito mais acelerados que os da pesquisa científica. E é importante que os jornalistas levem isso em conta no momento de apurar sobre uma pesquisa em curso ou de buscar entrevistas com cientistas, disse Rojas Abalos.
"Você às 9 entra para trabalhar, às 5 tem que entregar algo em um veículo pequeno. Não dá tempo para que essa pesquisadora te responda em três minutos o e-mail ou o WhatsApp que você mandou", disse. "Tem a ver um pouco com a empatia de entender como funciona a vida do outro, como funciona escrever um artigo científico e como funciona também o ofício jornalístico".
Para uma leitura mais proveitosa de um paper científico, os repórteres devem se familiarizar com a estrutura e a linguagem desse tipo de publicação.
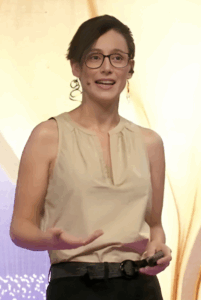
Macarena Rojas Abalos é uma acadêmica e comunicadora científica em rádio e TV no Chile. (Foto: perfil de Macarena Rojas Abalos no X)
"É preciso se dar o momento para entender a estrutura de um paper, que é muito diferente da estrutura de uma matéria jornalística", disse Rojas Abalos. "Ali não vai primeiro o 'noticiário'".
Enquanto as matérias jornalísticas costumam seguir a estrutura de pirâmide invertida, na qual a informação mais importante e noticiosa vem no início, as publicações científicas comumente usam o formato IMRAD, no qual primeiro vai a introdução, seguida da metodologia, depois os resultados e ao final a discussão.
Além de entrevistar os autores de um paper, é uma boa prática pedir a opinião especializada de cientistas alheios ao estudo em questão, concordaram as jornalistas. Idealmente, os repórteres devem buscar pesquisadores com credenciais similares para contrastar a metodologia, os resultados e as conclusões de um estudo que se quer tomar como fonte.
"O mais aconselhável quando se tem um paper é buscar algum cientista que conheça o mesmo tema e que não tenha participado desse estudo, justamente para poder perguntar 'o que você sabe sobre isso e qual sua opinião sobre as conclusões apresentadas?'", disse Rojas Abalos.
Bär disse que isso deve ser feito, não só para cumprir com o ceticismo próprio do jornalismo, mas porque na ciência costuma haver interpretações opostas de um mesmo fenômeno.
"Há temas nos quais metade da biblioteca aponta para um lado e a outra metade, para o outro. Há avaliações diferentes e às vezes controversas sobre a mesma descoberta, o mesmo estudo", disse Bär. "[A revisão de pares] nos permite avaliar melhor se o trabalho foi bem feito e se os resultados ou conclusões apresentados são confiáveis".
Antes de usar um artigo científico, Rojas Abalos recomendou revisar o índice de impacto da revista em que foi publicado. Este índice é uma métrica que indica a frequência com que os artigos de uma publicação são citados em um período determinado, e se utiliza para estimar a relevância das revistas dentro de uma disciplina.
"Em geral costuma-se ir aos grandes journals, à Science, à Nature, mas às vezes podemos encontrar boas pesquisas que são super robustas, com muito boa informação, em journals mais específicos, de nichos, que têm um índice de impacto muito bom", disse Rojas Abalos.
O Comitê de Ética em Publicação, uma organização global que promove a integridade na publicação acadêmica, alerta constantemente sobre a existência de "revistas predatórias", publicações acadêmicas que aparentam ser legítimas, mas que carecem de revisão por pares e padrões editoriais, e buscam lucrar cobrando taxas para publicar.
"Revistas científicas há milhões. Então, temos que nos ater à pertinência. Não é o mesmo ler um jornal A a ler o jornal Z", disse Rojas Abalos. "Acontece o mesmo com as pesquisas".
Embora as revistas científicas e acadêmicas sejam uma excelente fonte de papers, muitas delas publicam em outros idiomas ou requerem uma assinatura, o que as torna inacessíveis para muitos jornalistas, disse Torres.

Fabiola Torres é a fundadora e diretora da Salud con Lupa no Peru. (Foto: perfil de Fabiola Torres no X)
A jornalista disse que uma boa alternativa é dirigir-se às universidades e centros de pesquisa, que costumam ter grandes repositórios de publicações científicas.
"Eu recomendaria aos jornalistas que busquem em seu país e façam um mapeamento das universidades que estão produzindo e em que se especializam seus centros de pesquisa", disse Torres. "Frequentemente os estudos que se fazem não são divulgados ou ficam em um grupo muito fechado".
Bär recomendou construir uma agenda própria de pesquisadores que alertem sobre que trabalhos estão realizando, além de se unir a redes de jornalistas de ciência para consultar uns aos outros.
A Mongabay, por exemplo, conta com uma equipe em sua redação global encarregada de fazer uma revisão das principais publicações científicas do mundo em busca de papers sobre temas que sejam do interesse das redações do veículo ao redor do mundo, disse Alvarado.