O combinado não sai caro. O ditado popular brasileiro é uma regra de ouro em projetos de colaborações entre jornalistas, especialmente de veículos ou até mesmo países diferentes.
Esta é o principal ensinamento da sessão “A urgência da colaboração jornalística,” realizada durante o Festival 3i de Jornalismo Inovador, Independente e Inspirador, no Rio de Janeiro nos dias 18, 19 e 20 de outubro.
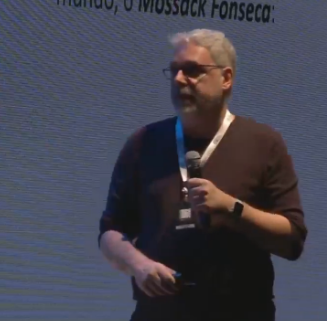
José Roberto de Toledo: “O crime é transnacional, cada vez mais, logo o jornalismo também precisa ser”. Foto: reprodução YouTube
"Há pautas que nem o melhor dos repórteres consegue fazer sozinho. É impossível.”, disse no 3i o jornalista José Roberto de Toledo, editor executivo do site da revista Piauí, sobre a colaboração internacional para a investigação dos Panamá Papers. “Eram 400 jornalistas, de cem veículos, em 80 países, [que falavam] 25 idiomas diferentes.”
Desses, 96 eram jornalistas da América Latina.
Em 2016, Toledo trabalhava no Estado de S.Paulo, um dos dois veículos brasileiros que tiverem acesso aos dados vazados da então firma Mossack Fonseca, um escritório de advocacia sediado no Panamá, sobre offshores criadas pela empresa e que poderiam ser usadas para ocultação de patrimônio e evasão de divisas.
A colaboração neste caso era um imperativo. A equipe do jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que recebeu os documentos vazados de uma fonte anônima, não teria condições de analisar sozinho o material. “Quarenta anos de registros e mensagens, 11,5 milhões de arquivos secretos, 2,6 terabytes de dados. É difícil imaginar em termos de volume. [São] 470 milhões de palavras, [equivalente a] 600 mil bíblias, que empilhadas são da altura de dois montes Everest”, compara Toledo.
Coube ao International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) organizar a investigação, que ocorreu durante um ano sem que houvesse nenhum vazamento. Para Toledo, o mérito pelo êxito é do ICIJ, que montou um sistema de trabalho que evitou isso. “Foram descobertas 210 mil empresas offshore, incorporadas em 21 paraísos fiscais diferentes. [...] E entre os beneficiários dessas offshores estavam 140 políticos de 50 países,” lembra o jornalista.
Mas nem sempre a colaboração jornalística funciona tão bem assim. Em 2010, quando o Wikileaks obteve acesso a documentos secretos produzido por diplomatas americanos em todo o mundo, Julian Assange, fundador do site, buscou os jornais El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian e The New York Times.
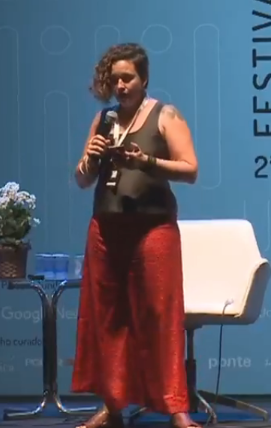
Natalia Viana: “Para uma colaboração funcionar, é preciso paciência, acordos verbais e por escrito, flexibilidade”. Foto: reprodução YouTube.
“A tentativa de Julian Assange de controlar o processo e a falta de diálogo entre as partes levou a problemas muito sérios de relacionamento antes e depois”, lembrou durante o Festival 3i a jornalista brasileira Natalia Viana, que era uma das colaboradoras do Wikileaks. “Eram redações acostumadas ao furo. Eu me lembro de Julian Assange e sua assistente falando 'não publica, não pode publicar'. Você segurar todas elas [as redações] para publicar no mesmo momento foi uma tensão extraordinária.”
Desde 2011 Viana dirige a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, da qual é uma das co-fundadoras. Como outros veículos nativos digitais, a Pública aposta na colaboração com outros meios. Ela acredita, no entanto, que ainda há “um longo caminho [a ser percorrido] até que a colaboração seja internalizada nas grandes e pequenas redações”.
“Recentemente, uma parceria da Agência Pública com um veículo grande acabou indo por terra por que o veículo descobriu um furo dentro da investigação e resolveu publicar sem a nossa anuência e o diálogo necessário.”, disse Viana. “Para que funcione uma colaboração, é preciso paciência, acordos verbais e por escrito, flexibilidade porque há problemas que acontecem”.
No caso do Panamá Papers, o fato de se tratar de uma investigação colaborativa internacional talvez tenha blindado jornalistas de pressões dentro das próprias empresas onde atuam, na avaliação de Toledo. Ele lembra que o Estadão entrou na investigação na reta final, depois da desistência de outro veículo.
Um impasse, no entanto, surgiu quando entre os nomes da lista da Mossack Fonseca estavam um dos acionistas do jornal e do presidente do conselho de administração do Grupo Estado. “[cada um] tinha uma offshore. Ajudou muito o fato de que se decidisse não publicar, o outro veículo brasileiro integrante do consórcio publicaria do mesmo jeito e seria um vexame ainda maior”, disse Toledo.

María Teresa Rondero: a colaboração ajuda o público a identificar bom jornalismo Foto: reprodução YouTube
Já a jornalista colombiana María Teresa Rondero, que hoje dirige o recém-criado Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), lembra que quando começou a atuar em colaborações internacionais através do ICIJ, um dos desafios era buscar a igualdade entre os jornalistas participantes.
“No começo, jornalistas de meios dos Estados Unidos, da Europa, de alguma forma, sentiram que tinham um nível melhor. E eles olharam com um pouco de desdém para as colaborações de jornalistas da África, Ásia e América Latina, porque estavam acostumados a ter fixers nesses países. [...] foi muito difícil fazê-los entender que não éramos fixers, que isso era uma colaboração de iguais e que teríamos que publicar juntos, participar e levar a sério a investigação”, disse a jornalista durante o Festival 3i. "No caso dos donos da água, eu tive que fazer 17 versões de uma reportagem, porque havia um canadense que pensava que era eu que estava inventando tudo, que não havia nada certo".
A colaboração não apenas amplia a profundidade da cobertura e o seu alcance, como também é capaz de dar mais segurança a jornalistas que investigam crimes cometidos por poderosos. Uma das investigações já coordenadas pelo CLIP é o Proyecto Miroslava, que apura a investigação da morte da jornalista mexicana Miroslava Breach. Ela foi assassinada em 23 de março de 2017 após publicar reportagens sobre vínculos entre grupos de traficantes e suas ligações políticas.
“O que fizemos foi trazer alguns pesquisadores de outros países e também ajudá-los com toda a idéia de proteção e segurança. Perigoso para eles publicar essa história apenas no México. O efeito do projeto Miroslava foi enorme. Editoriais no New York Times, Washington Post. Mais 45 meios de comunicação mexicanos [publicaram]. É claro que a pressão sobre o governo para resolver este caso é enorme”, explicou Ronderos.

Glenn Greenwald: o futuro do jornalismo está nos vazamentos. Foto: reprodução YouTube
Além da segurança, a colaboração se faz necessária também para dar conta das novas dinâmicas sociais e das novas tecnologias, segundo Toledo. “O crime é transnacional, cada vez mais, logo o jornalismo também precisa ser. O jornalismo precisa trabalhar entre si e com profissionais com habilidades complementares, como desenvolvedores e advogados, porque eles vão ter o conhecimento de algo que nós não dominamos”, disse o jornalista.
No Brasil, o furo de maior repercussão do ano e que continua rendendo suítes há quatro meses é a série Vaza-Jato. Ela saiu pela primeira vez no The Intercept Brasil, que depois fechou parcerias com outros meios de comunicação para analisar os conteúdos das mensagens trocadas entre integrantes da Força-Tarefa da Lava-Jato feitas através do aplicativo Telegram. Elas mostram os bastidores de decisões e as relações entre membros do Ministério Público e da Justiça, mais notadamente do ex-juiz Sergio Moro, que atualmente é ministro da Justiça. Segundo o jornalista Glenn Greenwald, fundador do Intercept, vazamentos como este devem se tornar cada vez mais comuns.
"A inovação mais brilhante do Julian Assange, do Wikileaks, é que eles perceberam antes de todo mundo, que o futuro do jornalismo vai ser baseado nos enormes vazamentos digitais. Porque agora as instituições mais poderosas estão mantendo os seus segredos em formatos digitais. Por um lado, é mais conveniente para elas, mas por outro cria uma vulnerabilidade, pois é muito mais fácil vazar enormes quantidades de informação do que seria em papel", disse Greenwald durante o Festival 3i.
Para Ronderos, um meio pequeno, como é o caso do Intercept, se beneficia de colaborações não apenas na apuração de reportagens, mas também para amplificar o impacto. “Hoje, na internet, temos uma enorme abundância de informações. E para um único meio ser visto, ouvido, é muito difícil. [A colaboração] é uma maneira de as pessoas identificarem rapidamente ah! Isso é um bom jornalismo. Porque é apoiado por muitos nomes. Permite que os cidadãos fiquem viciados em boas informações”.